Do livro de Tomás Halik - IHU. Falando teologia
Uma Igreja que buscasse hoje um projeto de restauração correria o risco de se tornar uma seita tradicionalista. A Igreja precisa de oásis de espiritualidade e de pessoas que consagrem sua vida aos seus cuidados, mas a Igreja não pode e não deve criar uma ilha de contracultura na sociedade.
O comentário é do padre italiano Gabriele Ferrari, responsável pelo Centro de Formação Permanente dos Padres Xaverianos, ex-superior geral dos xaverianos por 12 anos e ex-missionário em Burundi, ao comentar o último livro de Tomáš Halík.
O artigo foi publicado em Settimana News, 14-03-2023. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Eis o artigo.
Li com crescente interesse – embora certamente não seja uma leitura amena... – o livro “Pomeriggio del cristianesimo. Il coraggio di cambiare” [Tarde do cristianismo: a coragem de mudar] (Edizioni Vita e Pensiero, 2022, 275 páginas), de Tomáš Halík, que meu bispo me presenteou de Natal.
É um livro interessante que – como diz o subtítulo – tem como assunto a atual situação da Igreja, um tema que está hoje… quase na moda. São muitos os artigos que se fazem a pergunta sobre qual será o futuro da Igreja.
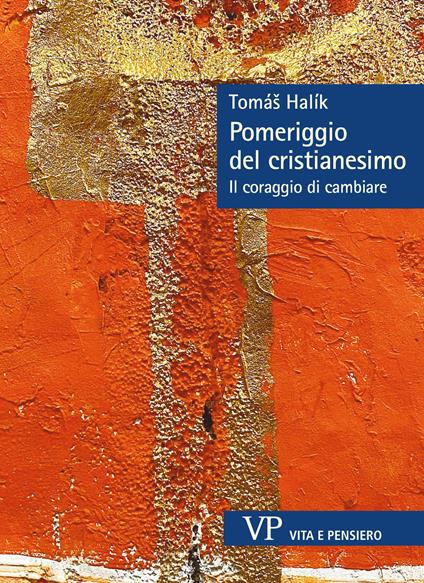
“Tarde do cristianismo: a coragem de mudar”, em tradução livre, novo
livro de Tomáš Halík (Foto: Divulgação)
Halík se propõe a mostrar que as mudanças que ocorreram e estão ocorrendo são passagens históricas inevitáveis, porque estão inscritas na história. Portanto, não faz sentido se assustar e tentar voltar apressadamente para o passado.
Halík convida a Igreja a repassar a sua história e a ler nos acontecimentos em curso as indicações para o futuro empenho pastoral com um convite à esperança: a Igreja não está no fim, e a reforma à qual ela é chamada pelo Papa Francisco é o caminho para o seu futuro!
Saiba ler a mudança
Halík, teólogo, mas também sociólogo e psicólogo originário da República Tcheca, que hoje trabalha principalmente no mundo anglo-saxão, propõe uma maneira particular de interpretar a história, a kairologia. O novo termo – que vem de kairós – indica “a experiência hermenêutica teológica da fé na história” (p. 35), que recorda “a leitura dos sinais dos tempos” que se tornou práxis comum com o Concílio.
Partindo da constatação de que a nossa época não é uma época de mudanças, mas uma “mudança de época” (como afirma Francisco), Halík se propõe a ler nas mudanças atualmente em curso na vida da Igreja o rastro do desenvolvimento futuro e os novos compromissos da missão.
As mudanças atuais dão medo: as Igrejas que estão se esvaziando, a prática dos sacramentos que parece se apagar, os cristãos que abandonam, o desinteresse dos jovens e o desânimo dos educadores, as vocações aos ministérios ordenados e à vida consagrada que se tornam cada vez mais raras, a credibilidade pública da Igreja em declínio devido aos abusos e aos escândalos… são apenas sinais de uma crise e, ao mesmo tempo, de uma realidade nova que, nessa provação, vai ganhando forma na vida da Igreja.
Esses fenômenos não devem nos levar ao desânimo como se fossem sinais fúnebres. Na história de hoje, embora complexa, estão as sementes de um futuro que agora só podemos imaginar. Cabe a nós percebê-las e cultivá-las de forma positiva.
A jornada da Igreja
Não é minha intenção resumir aqui – e eu nem seria capaz disso – os muitos aspectos, termos e perspectivas que Halík aborda no livro, passando em revista as várias formas que a Igreja assumiu ao longo dos séculos. Quero apenas recolher aqui algumas observações e indicações concretas que emergiram da leitura para convidar quem quer compreender este nosso tempo a ler o livro inteiro. E vai perceber que vale a pena.
Acima de tudo, tenho que dizer uma palavra para explicar o título do livro, que certamente desperta curiosidade. O livro fala da mudança da fé e da religião ao longo de história bissecular da Igreja. Ele o faz distinguindo – o impulso vem da psicologia de C. Gustav Jung (cf. pp. 51–54) – três etapas na história do cristianismo: a primeira que ele chama de “a manhã do cristianismo” e é a era pré-moderna que corresponde ao tempo da chamada cristandade, quando a Igreja se estendia a tudo e a todos; a segunda etapa da história da Igreja, que ele chama de meio-dia, é caracterizada pela secularização progressiva, ou seja, pela emancipação das ciências e da política em relação à religião, essencialmente a era da modernidade; a terceira etapa é aquela que estamos vivendo, e que Halík chama de “tarde do cristianismo”, uma estação positiva (não nos esqueçamos de que, na linguagem bíblica, a festa começa na noite da véspera!) na qual o cristianismo está assumindo uma nova forma, aquela que nós podemos ver e que deixa muitas pessoas com muitas interrogações pesadas.
O tempo da cristandade já passou e acabou, está morto e sepultado, mesmo que existam cristãos, bispos, padres e fiéis que gostariam de ressuscitá-lo. A cristandade é sucedida pela modernidade, produto e fruto do Iluminismo europeu, um tempo de crise para a Igreja, em que a ciência e a política se emancipam progressivamente da tutela do magistério da Igreja, e os Estados modernos reivindicam sua autonomia.
Halík fala longamente e em detalhes sobre a “crise do meio-dia” no capítulo sexto do livro, significativamente intitulado “Escuridão ao meio-dia”. Nesse período, a religião e a fé sofrem um processo de secularização, enquanto o magistério da Igreja frequentemente se encontra em conflito com os poderes da ciência e da política. Essa etapa conclui-se idealmente com o Concílio Vaticano II, que – pelo menos nas intenções – reabre o diálogo com a ciência e com a política.
A crise: perigo e oportunidade
Nesse ponto, começa aquela que, para alguns, é uma nova crise, que é uma fase de transição e de amadurecimento, ao longo da qual a religião está mudando e assumindo formas novas, enquanto, para outros, está perdendo seus princípios.
Uma crise, portanto, mas que – como toda crise – envolve dois aspectos: perigo e oportunidade. Nessa etapa, vai desaparecendo um tipo de religião e de Igreja, enquanto está amadurecendo uma nova forma ou figura de Igreja, que ainda tem suas raízes na Escritura e na tradição, na espiritualidade e na missão, embora ainda esteja buscando a elaborando dia após dia os traços definitivos que só serão alcançados no último dia (natureza escatológica da Igreja).
Halík levanta a hipótese de que “a fé cristã alcançou a maturidade com a forma atual de religião e que as tentativas de empurrá-la para trás, para formas anteriores, são contraproducentes... O cristianismo como religio, encarnado na forma político-cultural da Cristandade, representa um passado concluído, e suas imitações nostálgicos levam apenas a caricaturas tradicionalistas. Nestes tempos em que mudam os paradigmas das civilizações, a fé cristã procura uma nova forma, uma nova morada, novos meios expressivos, novas tarefas sociais e culturais e novos aliados” (p. 62-63). Um caminho escatológico que, por sua própria natureza, ainda não terminou e só terminará quando “Deus for tudo em todos”, como escreve Paulo (1Cor 15,28).
O discurso de Halík atravessa todos os aspectos da religião e da cultura, da fé e da crença (doutrina), do religioso e do não religioso... também se torna complicado, mas vale a pena seguir o autor em suas argumentações, pois assim é possível descobrir que não estamos no fim, mas apenas em uma virada positiva do cristianismo, em que poderão ser recuperados – sem retrocessos inúteis e perigosos; pelo contrário, em sua plenitude – aqueles valores que outros acham que foram perdidos nesta passagem de época, para que a missão da Igreja se amplie e se aprofunde.
É nessa linha que se situa a reforma que o Papa Francisco laboriosamente está levando em frente, em particular o seu discurso sobre a sinodalidade, elemento constitutivo da Igreja que envolve a todos e a todas na missão em relação ao nosso mundo, uma reforma que visa a recuperar o rosto autêntico da Igreja em uma estrada que exclui um retorno para trás, mas oferece indicações para o futuro da vida da Igreja e também do mundo.
Novas perspectivas
Todos os 18 capítulos do livro são interessantes, nunca apenas teóricos ou “caídos de paraquedas”, pelo contrário, muitas vezes são deliberadamente provocativos, mas é perto do fim que o livro, quase como que para pagar sua dívida com a paciência do leitor, oferece algumas páginas que não deveriam ser lidas às pressas apenas para concluir o esforço. São páginas de uma clareza e uma perspectiva extraordinárias, que me abriram para a esperança e fazem do que desejemos fazer parte desse caminho.
Efeito de deformação profissional? Talvez, já que, em Burundi, eu lecionei eclesiologia durante anos (a eclesiologia do Vaticano II) a estudantes que, sempre que entravam na sala de aula, eu me perguntava se (e quanto) acompanhariam as minhas aulas de eclesiologia em francês.
Na minha opinião, os capítulos 15 (“A sociedade do caminho”) e 16 (“A sociedade da escuta e da compreensão”) são o ponto de chegada do livro de Halík e uma profissão de fé nesta Igreja de Jesus Cristo como ela está emergindo hoje.
Embora pareça justamente que a opinião pública – em geral – tem um olhar muito crítico e até sem esperança em relação à Igreja e à sua forma atual, Halík afirma que “a chave de todas as considerações sobre a Igreja é o paradoxo expressado por Paulo: ‘Nós temos este tesouro em vasos de barro’ (2Cor 4,7)”.
Depois de analisar muitos aspectos da crise contemporânea da Igreja, Halík identifica a “forma oculta à qual [a Igreja] foi chamada e que florescerá com base na nossa fé no fim dos tempos: aquele tesouro escondido em frágeis, empoeirados, lascados vasos do mesmo barro de que somos feitos, nós que formamos a Igreja” (p. 228).
O rio da fé saiu das margens do passado, e a Igreja perdeu seu monopólio; as instituições eclesiásticas não têm mais o poder de controlá-lo nem de discipliná-lo, mas “a Igreja, como sociedade dos fiéis, sociedade da memória, do anúncio e da celebração, no entanto, tem a missão permanente de servir a fé, e isso tanto com suas experiências históricas quanto com o poder do Espírito que habita e age também em vasos de barro” (ibid.).
Quatro conceitos eclesiológicos
Tomáš Halík vê na contemporaneidade quatro conceitos eclesiológicos aos quais é possível e necessário reconectar-se hoje, como bases sobre as quais é possível desenvolver a Igreja no futuro e para o futuro.
Eles devem ser mais aprofundados do ponto de vista teológico e inseridos na vida: a Igreja como povo de Deus peregrino na história, a Igreja como escola de sabedoria, a Igreja como hospital de campanha, a Igreja como lugar de encontro e de diálogo para o serviço de acompanhamento espiritual e de reconciliação.
- Acima de tudo, a Igreja como povo de Deus a caminho na história. É uma aquisição fundamental do Vaticano II, que conecta a Igreja de Jesus Cristo ao povo de Israel e a enraíza na história.
A Igreja, portanto, é um povo em movimento, lidando com as contínuas mudanças impostas pela história, um povo que é essencialmente escatológico, que só será plenamente uno, santo, católico e apostólico no fim de seu caminho, um povo no qual continuamente “se misturarão unidade e diversidade, univocidade e discórdia, santidade e pecado, universalidade católica e estreiteza e catolicismo culturalmente limitado, fidelidade à tradição apostólica e um labirinto de heresias e apostasias” (p. 232).
A história não é o céu, não é Deus, e nela não podemos evitar a tensão contínua entre o “já” e o “ainda não”.
A tradição eclesiástica distinguiu três tipos/situações da Igreja, a ecclesia militans, a poenitens e triumphans. Esquecer as diferenças escatológicas entre a Igreja terrena e a celeste já produziu no passado o triunfalismo e, hoje, uma nova forma patológica que o Papa Francisco não se cansa de denunciar e que chama com o termo de clericalismo.
- A Igreja como escola de vida e de sabedoria
Nos nossos países europeus, não domina mais a religião tradicional, nem mesmo o ateísmo, mas prevalecem o agnosticismo, o 'apateísmo' (indiferentismo) e o analfabetismo religioso. Com eles, embora numericamente menos importantes, estão o fanatismo religioso e o ateísmo dogmático que, em sua arrogância (“nós temos a verdade!”), não sentem mais a necessidade de buscar o Senhor.
A fé, ao contrário, é o caminho, o caminho da busca, enquanto o dogmatismo e o fundamentalismo, tanto religiosos quanto ateu, são becos sem saída, ou talvez uma prisão. Por isso, a Igreja, a sociedade cristã é chamada a se tornar uma escola, comunidade de vida, de oração e de ensino (como eram as antigas universitates medievais, nas quais vigora o princípio contemplata aliis tradere). Assim como nas antigas escolas, a disputatio é um elemento essencial, ou seja, a busca feita em conjunto, na qual se tenta chegar à verdade buscando juntos, em debates livres.
Para serem escolas de vida e de sabedoria, as comunidades cristãs deveriam, portanto, tornar-se lugares em que se procura unir a espiritualidade e a teologia, o diálogo e o cuidado espiritual. Assim deveriam ser as paróquias, os conventos, os movimentos.
A missão dos fiéis é redescobrir a presença de Deus nos movimentos da história “separando a fé do convencimento religioso, a esperança do otimismo e a caridade, da simples emoção. Educar para uma fé meditada e madura deve ter um aspecto não apenas intelectual e moral, mas também terapêutico: tal fé protege contra doenças infecciosas como a intolerância, o fundamentalismo e o fanatismo” (p. 234).
- O Papa Francisco gosta de usar a imagem da Igreja como “hospital de campanha”, uma imagem que deve nos acompanhar e inspirar nesta “tarde do cristianismo”.
A Igreja deve sair definitivamente do esplêndido isolamento que a caracterizou no tempo da cristandade e que tende a perpetuar ainda hoje. Ela deve entrar no mundo e se deixar encontrar nos lugares onde haja pessoas feridas física, social, psicológica e espiritualmente, para curá-las.
Existem feridas individuais e coletivas a serem curadas não apenas com as normas da moral, mas também com o potencial terapêutico da fé, com o evangelho da misericórdia, com a proximidade e a consolação.
Para diagnosticar as doenças, a Igreja se servirá da kairologia, a hermenêutica teológica dos fatos da história e da sociedade.
Além de fazer o diagnóstico das doenças do mundo, a Igreja deve tentar preveni-las o máximo possível, cuidando e limpando o terreno da sociedade, da família, da escola, do trabalho, ocupando-se da dignidade da pessoa humana, da justiça, da paz. A tarefa da Igreja hoje é empenhar-se na ecologia integral e na promoção da fraternidade e da amizade social (cf. encíclica Fratelli tutti).
- O quarto modelo da Igreja está conectado com a escola e com o hospital de campanha.
As estruturas atuais não são suficientes. A Igreja deverá multiplicar os centros espirituais, lugares de adoração e de contemplação, mas também de encontro e de diálogo, nos quais seja possível a todos os buscadores de Deus e da verdade (tanto religiosos quanto não religiosos, tanto cristãos quanto não cristãos) compartilhar sua experiência espiritual.
Hoje, muitos se preocupam com o progressivo desgaste da estrutura paroquial e gostariam de restaurá-la. Halík está convencido de que isso não adianta e não acha realista querer frear esse processo histórico, por exemplo importando padres do exterior; mesmo que um dia fossem ordenados viri probati ou mulheres, o processo de declínio das paróquias territoriais não pararia.
Escuta e diálogo devem ser oferecidos sobretudo aos chamados “nones”, pessoas que não pertencem a nenhuma categoria, não são ateus, não são crentes, mas estão em busca de um sentido/direção para suas vidas. Diante da crise da paróquia, não adianta e não funciona um projeto restaurador como o proposto por R. Dreher em “A opção beneditina, uma estratégia para cristãos no mundo pós-cristão” (Ed. Ecclesiae, 2021).
Uma Igreja que buscasse hoje um projeto de restauração correria o risco de se tornar uma seita tradicionalista. A proposta de “refugiar-se em um gueto, em um artificial parque arqueológico do passado diante da contínua necessidade de tomar decisões nas difíceis condições da liberdade e fugir da tarefa de viver na contemporaneidade é hoje uma sedução tentadora que aumenta a atratividade das seitas. A tempestade do medo ameaça a chama da fé, a coragem de buscar a Deus incessantemente de um modo novo e mais profundo” (p. 239).
A Igreja precisa de oásis de espiritualidade e de pessoas que consagrem sua vida aos seus cuidados, mas a Igreja não pode e não deve criar uma ilha de contracultura na sociedade.
Os discípulos de Jesus, antes de se chamarem cristãos, eram chamados de “o Caminho” (Atos 9,2). Hoje, a Igreja deve voltar a ser a “sociedade do Caminho”, deve desenvolver o caráter peregrino da fé para cruzar este novo limiar e acolher, escutar e compreender todas aquelas pessoas que procuram um sentido para sua existência: é isso que a preparação para o Sínodo de 2023-2024 está evidenciando (cf., por exemplo, o Documento sobre a etapa continental do Sínodo, n. 32-34, 38-40).
Comentário de Pietro, 14-03-2023
“A Igreja não pode e não deve criar uma ilha de contracultura na sociedade.” Frase-chave, na minha opinião. Esperemos que os novos antimodernistas entendam isso… A sensação é que o fato de ter confundido o “estar no mundo sem ser do mundo” com o “estar fora do mundo” é uma das causas da dificuldade que o ser humano moderno tem de se relacionar com a Igreja.
Leia mais
- Sínodo: além de ortodoxia e ortopráxis, a Igreja precisa de uma nova ortopatia. Entrevista com Tomáš Halík
- Tomáš Halík: “A Igreja precisa de aliados, se souber abordá-los sem arrogância”
- "A Igreja deve passar por uma reforma profunda". Entrevista com Tomáš Halík
- Tomas Halík: “O Sínodo é uma oportunidade para escutar juntos o que o Espírito diz às Igrejas hoje”
- Ideias e paixões para a Igreja na Europa. Artigo de Tomáš Halík
- Reconstruir a ‘humanitas’ e (re)pensar Deus em um paradigma pós-teísta
- Igreja e homossexualidade: é necessário um novo paradigma
- “Esta Igreja me assusta. De Jesus, nunca uma palavra contra a homossexualidade”. Entrevista com Alberto Maggi
- A homossexualidade é contrária à Bíblia? Reflexões em vista do Sínodo
- O novo humanismo do Papa Francisco: ser pessoas normais, concretas, simples, com o pé no chão
- A modernidade não triunfou e a democracia concretizou a ordem do egoísmo
- Inquietude, incompletude e imaginação. Os desafios da fraternidade no tempo presente. Entrevista especial com Andrea Grillo
- "Temos que voltar ao ecocentrismo, ao lugar do qual nunca deveríamos ter saído." Entrevista especial com José María Vigil
- “Um capítulo na história do cristianismo está chegando ao fim”. Entrevista com Tomáš Halík
- Abraçar as feridas do mundo, de si mesmo e de Cristo, segundo Tomáš Halík
- Igrejas fechadas: um sinal de Deus? Artigo de Tomáš Halík
- “Este é o momento de avançar para águas mais profundas.” Artigo de Tomáš Halík
- Teólogo Tomáš Halík entrega ao papa carta pedindo reformas

